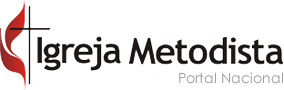Publicado por José Geraldo Magalhães em Geral - 13/09/2013
Islã cresce na periferia _ Imprensa e Religião
Islã cresce na periferia das cidades do Brasil
Jovens negros tornam-se ativistas islâmicos como resposta à desigualdade racial. O que pensam e o que querem os muçulmanos do gueto
Eliane Brum
 |
O ISLÃ NA LAJE Carlos Soares Correia virou Honerê Al-Amin Oadq. Ele é um dos principais divulgadores muçulmanos do ABC paulista. Na foto, na periferia de São Bernardo do Campo, onde vive, reza e faz política Cinco vezes ao dia, os olhos ultrapassam o concreto de ruas irregulares, carentes de esgoto e de cidadania, e buscam Meca, no outro lado do mundo. É longe e, para a maioria dos brasileiros, exótico. Para homens como Honerê, Malik e Sharif, é o mais perto que conseguiram chegar de si mesmos. Eles já foram Carlos, Paulo e Ridson. Converteram-se ao islã e forjaram uma nova identidade. São pobres, são negros e, agora, são muçulmanos. |
Quando buscam o coração islâmico do mundo com a mente, acreditam que o Alcorão é a resposta para o que definem como um projeto de extermínio da juventude afro-brasileira: nas mãos da polícia, na guerra do tráfico, na falta de acesso à educação e à saúde. Homens como eles têm divulgado o islã nas periferias do país, especialmente em São Paulo, como instrumento de transformação política. E preparam-se para levar a mensagem do profeta Maomé aos presos nas cadeias. Ao cravar a bandeira do islã no alto da laje, vislumbram um estado muçulmano no horizonte do Brasil. E, ao explicar sua escolha, repetem uma frase com o queixo contraído e o orgulho no olhar: "Um muçulmano só baixa a cabeça para Alá e para mais ninguém".
Honerê, da periferia de São Bernardo do Campo, converteu Malik, da periferia de Francisco Morato, que converteu Sharif, da periferia de Taboão, que vem convertendo outros tantos. É assim que o islã cresce no anel periférico da Grande São Paulo. Os novos muçulmanos não são numerosos, mas sua presença é forte e cada vez mais constante. Nos eventos culturais ou políticos dos guetos, há sempre algumas takiahs cobrindo a cabeça de filhos do islã cheios de atitude. Há brancos, mas a maioria é negra. "O islã não cresce de baciada, mas com qualidade e com pessoas que sabem o que estão fazendo", diz o rapper Honerê Al-Amin Oadq, na carteira de identidade Carlos Soares Correia, de 31 anos. "Em cada quebrada, alguém me aborda: Já ouvi falar de você e quero conhecer o islã´´. É nossa postura que divulga a religião. O islã cresce pela consciência e pelo exemplo."
Em São Paulo, estima-se em centenas o número de brasileiros convertidos nas periferias nos últimos anos. No país, chegariam aos milhares. O número total de muçulmanos no Brasil é confuso. Pelo censo de 2000, haveria pouco mais de 27 mil adeptos. Pelas entidades islâmicas, o número varia entre 700 mil e 3 milhões. A diferença é um abismo que torna a presença do islã no Brasil uma incógnita. A verdade é que, até esta década, não havia interesse em estender uma lupa sobre uma religião que despertava mais atenção em novelas como O clone que no noticiário.
O muçulmano Feres Fares, divulgador fervoroso do islamismo, tem viajado pelo Brasil para fazer um levantamento das mesquitas e mussalas (espécie de capela). Ele apresenta dados impressionantes. Nos últimos oito anos, o número de locais de oração teria quase quadruplicado no país: de 32, em 2000, para 127, em 2008. Surgiram mesquitas até mesmo em Estados do Norte, como Amapá, Amazonas e Roraima.
Autor do livro Os muçulmanos no Brasil, o xeque iraquiano Ishan Mohammad Ali Kalandar afirma que, depois do 11 de setembro, aumentou muito o número de conversões. "Os brasileiros tomaram conhecimento da religião", diz. "E o islã sempre foi acolhido primeiro pelos mais pobres."
Na interpretação de Ali Hussein El Zoghbi, diretor da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil e conselheiro da União Nacional das Entidades Islâmicas, três fatores são fundamentais para entender o fenômeno: o cruzamento de ícones do islamismo com personalidades importantes da história do movimento negro, o acesso a informações instantâneas garantido pela internet e a melhoria na estrutura das entidades brasileiras. "Os filhos dos árabes que chegaram ao Brasil no pós-guerra reuniram mais condições e conhecimento. Isso permitiu nos últimos anos o aumento do proselitismo e uma aproximação maior com a cultura brasileira", afirma.
Eles trazem ao islã a atitude hip-hop e a formação política do movimento negro
A presença do islã na mídia desde a derrubada das torres gêmeas, reforçada pela invasão americana do Afeganistão e do Iraque, teria causado um duplo efeito. Por um lado, fortalecer a identidade muçulmana de descendentes de árabes afastados da religião, ao se sentir perseguidos e difamados. Por outro, atrair brasileiros sem ligações com o islamismo, mas com forte sentimento de marginalidade. Esse último fenômeno despertou a atenção da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que citou no Relatório de Liberdade Religiosa de 2008: "As conversões ao islamismo aumentaram recentemente entre os cidadãos não-árabes".
Os jovens convertidos trazem ao islã a atitude do hip-hop e uma formação política forjada no movimento negro. Ao prostrar-se diante de Alá, acreditam voltar para casa depois de um longo exílio, pois as raízes do islã negro estão fincadas no Brasil escravocrata. E para aflorar no Brasil contemporâneo, percorreram um caminho intrincado. O novo islã negro foi influenciado pela luta dos direitos civis dos afro-americanos, nos anos 60 e, curiosamente, por Hollywood. Cruzou então com o hip-hop do metrô São Bento, em São Paulo, nos anos 80 e 90. E ganhou impulso no 11 de setembro de 2001.
Para contar essa história é preciso voltar a 1835, em Salvador, na Bahia, onde a revolta dos malês, liderada por negros muçulmanos, foi a rebelião de escravos urbanos mais importante da história do país. Pouco citada nos livros escolares, depois de um largo hiato ela chegou às periferias pela rima do rap. Lá, uniu-se ao legado do ativista americano Malcolm X, assimilado pela versão do filme de Spike Lee, de 1992. E ao 11 de setembro, que irrompeu na TV, mas foi colado às teorias conspiratórias que se alastram na internet.
É esse o islã que chega para os mais novos convertidos. E com maior força em São Paulo, porque a capital paulista foi o berço duro do hip-hop no Brasil " movimento histórico de afirmação de identidade da juventude negra e pobre. A tentacular periferia paulista é, como dizem os poetas marginais, a senzala moderna. E cada novo convertido acredita ter dentro de si um pouco de malê. Não é à toa que Mano Brown, o mais importante rapper brasileiro, mesmo não sendo muçulmano, diz no rap "Mente de vilão": No princípio eram trevas, Malcolm foi Lampião/Lâmpada para os pés/Negros de 2010/Fãs de Mumia Abu-Jamal, Osama, Saddam, Al-Qaeda, Talibã, Iraque, Vietnã/Contra os boys, contra o GOE, contra a Ku-Klux-Klan.
"Fico assustado com a linguagem desses rappers, mas não tem mais jeito. Alastrou. Depois que o fogo pega no mato, vai embora. O islã caiu na boca da periferia. E não sabemos o que vai acontecer. É tudo por conta de Alá", diz Valter Gomes, de 62 anos. Ele parece mais encantado que temeroso. Nos anos 90, "advogou" diante das organizações do movimento negro do ABC paulista e dos guetos de São Paulo com grande veemência. Defendeu que a salvação para os afro-brasileiros era a religião anunciada por Maomé quase 15 séculos atrás: "Irmãos, vocês estão querendo lutar, mas não têm objetivo. Trago para vocês um objetivo e uma bandeira. O objetivo é o paraíso, a bandeira é o islã".
Essas palavras encontraram material inflamável no coração de alguns rappers, que há muito procuravam um caminho que unisse Deus e ideologia. Enquanto o islamismo soou como religião étnica, trazida ao Brasil pelos imigrantes árabes a partir da segunda metade do século XIX, não houve identificação. Mas, quando o movimento negro, e depois o rap, difundiu a revolta dos malês como uma inflexão de altivez numa história marcada pela submissão, a religião passou a ser vista como raiz a ser resgatada. Os jovens muçulmanos dizem que não se convertem, mas se "revertem" ou "voltam a ser". Para eles, a palavra tem duplo significado: recuperar uma identidade sequestrada pela escravidão e pertencer a uma tradição da qual é possível ter orgulho.
As igrejas evangélicas neopentecostais, que surgiram e se multiplicaram a partir dos anos 80, com grande penetração nas periferias e cadeias, não tinham apelo para jovens negros em busca de identidade e sem vocação para rebanho. "Na igreja evangélica da minha mãe, me incomodava aquela história de Cristo perdoar tudo. Eu já tinha apanhado de polícia pra cacete. E sempre pensava em polícia, porque o tapa na cara é literal. Então, o dia em que tiver uma necessidade de conflito, vou ter de virar o outro lado da cara?", diz Ridson Mariano da Paixão, de 25 anos. "Eu não estava nesse espírito passivo. Pelo Malcolm X, descobri que, no islã, temos o direito de nos defender. Deus repudia a violência e não permite o ataque, mas dá direito de defesa. Foi esse ponto fundamental que me pegou também quando eu vi pela TV o 11 de setembro e achei que o mundo ia acabar."
Eles se inspiram em Malcolm X e acreditam que o 11 de setembro divulgou o islã entre os oprimidos
Ridson tornou-se Dugueto Sharif Al Shabazz em 2005. Seu nome é uma síntese histórica da trajetória do islã na periferia brasileira. Ridson, o nome que deixou, foi escolhido pelo pai, um negro que gostava de piadas racistas. Dugueto é o nome do rap, para marcar a origem do gueto. Sharif é o nome do personagem de um filme de gângsteres. Shabazz foi tirado do nome islâmico de Malcolm X.
Essa geração também não perdoa ao catolicismo sua omissão no período da escravidão africana. "Minha família é católica, mas comecei a investigar a história e descobri que a Igreja deu sustentação à escravidão. Diziam que os negros não tinham alma", afirma Honerê. "Sem contar que Jesus era branco, os anjos eram brancos. E tudo o que era ruim era negro. Aí eu pensava: "Então tudo o que é ruim vem de mim?". "Isso parece pequeno, mas na cabeça de um adolescente maltrata, faz com que a gente se torne ruim, viva uma vida ruim. Então conheci o islã."
Honerê tornou-se um dos principais divulgadores da religião no ABC paulista. Ele é dirigente do Movimento Negro Unificado (MNU) e funcionário do Centro de Divulgação do Islam para a América Latina (CDIAL). Para ele, como para a maioria dos muçulmanos negros, não faz a menor diferença que raça não exista como conceito biológico. Raça é um conceito cultural, que determinou todas as assimetrias socioeconômicas que determinaram sua vida e hoje representa um elemento fundamental na construção de sua identidade, inclusive a religiosa. Ele narra com clareza como Carlos Soares Correia transformou-se em Honerê Al Amin Oadq, em meados dos anos 90:
"Minha mãe era doméstica em casa de branco, muitas vezes foi chamada de 'negra infeliz'. Eu percebia que, no sistema de saúde e a todo lugar que eu ia, só gente da minha cor passava por dificuldades. Eu mesmo já levei coronhada da polícia sem justificativa, já defendi mulher negra no metrô, porque branco bêbado achava que era prostituta. Não tem um negro neste país que não tenha uma história de discriminação para contar. Então fui em busca da minha história. Era o tempo em que o rap era música de preto para preto. E o rap me apresentou Malcolm X. Aos 14, 15 anos, ele se tornou a minha grande referência político-racial. Depois descobri a história dos malês. Eles estavam num nível diferente se comparar com os outros negros da senzala. Não bebiam, não fumavam, sabiam escrever, eram instruídos. Se tivessem conseguido tomar a Bahia naquele 25 de janeiro de 1835, teriam o país em suas mãos, e o Brasil seria um estado islâmico.
A revolta dos malês (muçulmanos, na língua iorubá) abalou não apenas o Brasil, mas repercutiu na comunidade internacional. Jornais de Londres, Boston e Nova York publicaram notícias sobre o levante. Aumentou o tom da crítica à escravidão. Setenta rebelados morreram. Mais de 500 foram punidos com prisão, pena de morte e deportação para a África. Segundo o historiador João José Reis, em seu livro Rebelião escrava no Brasil (Companhia das Letras), numa comparação com a população atual de Salvador, isso equivaleria hoje a cerca de 24 mil negros castigados.
A força do levante dos malês inspira os novos muçulmanos do gueto. Muitos sonham com um estado islâmico no Brasil "ainda que seja um estado dentro do Estado". "Acredito que daqui a dez, 15 anos, isso será possível. Há uma geração tentando fazer isso de forma organizada. O povo brasileiro é religioso. Quando percebeu erros na Igreja Católica, tornou-se evangélico. O islã hoje ainda é pequeno, mas isso pode mudar", afirma o ex-católico Paulo Sérgio dos Santos, de 33 anos, assessor parlamentar da Câmara de Vereadores de Francisco Morato. Desde a virada do milênio, ele se tornou Abdullah Malik Shabbazz. "É óbvio que não vamos para um confronto armado. Esse caminho terá de vir pela consciência."
No processo de construção da identidade, os novos convertidos trocaram perguntas e lacunas por certezas. A história é resgatada naquilo que serve a uma afirmação positiva -- e as contradições, quando existem, pertencem ao outro. Esses jovens não querem tataravós como Pai Tomás, o escravo humilde do romance de Harriet Beecher Stowe, um marco na abolição da escravatura nos Estados Unidos. Preferem um antepassado como Ahuna, homem-chave na rebelião dos malês. E, sensíveis aos ecos da América negra, desejam eles mesmos ser não o pacifista Martin Luther King, mas o controvertido, belicoso e muçulmano Malcolm X, cuja trajetória de desamparo, violência, prisão e, finalmente, superação é semelhante à de muitos deles. E cujo X -- símbolo da identidade arrancada pela escravidão -- foi preenchido com um nome islâmico. Embora afirmem que a conversão seja um resgate da tradição, não deixam de exercer o ideal moderno de criar a própria identidade, até com a liberdade de inventar um novo nome que dê conta apenas de seus desejos -- e não mais do de seus pais. Agora, eles são filhos do islã. E não mais -- ou não apenas -- de pais humilhados.
Antes de adotar um nome muçulmano, Honerê foi um dos fundadores de uma das mais antigas posses de hip-hop em atividade, a Haussa, hoje com 15 anos de existência. As posses são grupos que reúnem pessoas com afinidades culturais e políticas para realizar metas comuns. Na história, os africanos haussás lideraram rebeliões escravas na Bahia no início do século XIX. Muçulmanos, eles vinham do que hoje é o norte da Nigéria e de uma guerra santa que forneceu muitos cativos para o tráfico negreiro. No Brasil, é provável que haussás de ambos os lados do conflito tenham se unido contra os brancos. Dois séculos depois, Haussa é uma frente só de negros, com 40 integrantes, no ABC paulista. O nome foi escolhido "porque os haussás não se deixavam domar, tinham convicções e só eram submissos a Deus".
Os haussás de hoje estavam entre os grupos que escutaram a preleção de Valter Gomes. Alguns, como Honerê, se converteram ao islã. "Descobrir minha história foi como ter passado a vida olhando para baixo, com a sensação de que todo mundo está te julgando e, de repente, passar a andar olhando as pessoas no olho, sem medo", diz ele.
Os muçulmanos compartilham a certeza de que, quanto mais difamam o islã, mais ele se fortalece. O anúncio do Vaticano, em 2008, de que o islamismo superou pela primeira vez o catolicismo no mundo em número de adeptos para eles é uma prova de que, ao forjar a ligação da religião, como um todo, ao terrorismo fundamentalista, as conversões se multiplicaram, em vez de encolher. Essa face perseguida, vilipendiada e dura tornou-se um ponto de identificação.
Nas telas de TV, o 11 de setembro tornou o islã popular nas periferias do planeta, que vê nos Estados Unidos o símbolo de todas as opressões. No Brasil, o fenômeno se repetiu. "Para nós, aquilo foi coisa do próprio governo americano, para ter desculpa de invadir países muçulmanos. Mas o 11 de setembro ajudou pra caramba na divulgação", diz o rapper Leandro Arruda, de 33 anos. "Todo mundo queria saber o que era o islã. Não que o Bin Laden seja um herói , mas a gente que vem do gueto tem certa rebeldia contra o governo opressor."
Rapper e ex-presidiário, Leandro está entre os que se interessaram pela religião ao ver a realidade imitar o cinema-catástrofe de Hollywood. "Percebi que existe um povo com uma postura diferente na Palestina, no Iraque, no Afeganistão. Comecei a procurar informação, encontrei o Malik e acabei me revertendo", diz. "Eu e minha esposa queremos estudar para divulgar o islã. Porque ninguém melhor do que a gente, que sobe o morro, tem acesso à periferia e conhece a massa, para falar a eles. Porque, se chegar um cara lá vestido de árabe, os 'negos' vão dar risada." Leandro desenvolve há um ano, numa favela da Zona Leste de São Paulo, o projeto Istambul Futebol e Educação, com 25 garotos em situação de risco. Os recursos vêm de um ativista islâmico da periferia paulista que hoje estuda na Síria.
A atuação social responde ao projeto político, que vê no islã uma reação às estatísticas da violência. "Não temos problemas com outras cores e raças. Não nos organizamos por racismo. Só queremos que os afro-descendentes parem de morrer aos 20 anos. Quem morre jovem no Brasil são os que não conhecem suas origens nem tiveram acesso ao conhecimento. É um genocídio da população periférica que vem desde a senzala", diz Malik. "Desde que me tornei muçulmano, não bebo, não fumo, meus filhos têm pai e mãe, educação e uma vida regrada. O islã nos dá instrumentos para combater problemas sociais que fazem com que sejamos a maioria e tenhamos menos que todos os outros."
Malik é o presidente do Núcleo de Desenvolvimento Islâmico Brasileiro (NDIB), a organização mais combativa do novo islã negro. O vice-presidente faz formação no Paquistão desde o ano passado. Pequeno, o NDIB tem apenas oito integrantes, entre eles Sharif e Leandro. Mas foi capaz de promover, no fim de 2007, um encontro entre o americano Fred Hampton Jr., o rapper Mano Brown e lideranças do movimento negro e de jovens muçulmanos, em São Paulo. Fred Hampton Jr. é o filho do líder dos Panteras Negras -- organização criada nos anos 60, nos Estados Unidos, que defendia teses como o pagamento de compensação aos negros pela escravidão e o armamento daqueles que se sentissem ameaçados pela força policial.
Ativista como o pai, Hampton Jr. passou quase nove anos preso e fundou na cadeia o Prisoners of Conscience Committee (POCC), em português Comitê dos Prisioneiros de Consciência. Nem o POCC nem Hampton Jr. se apresentam como muçulmanos. Mas a organização tem islâmicos na coordenação, com quem o NDIB mantém boas relações. O POCC defende que todos os detentos são prisioneiros políticos, porque a desigualdade racial não lhes deu escolha. As prisões seriam, para eles, um dos passos do extermínio planejado da população negra.
Numa parceria com o Conselho Nacional de Negros e Negras Cristãos, o NDIB levou Hampton Jr. a um encontro com a comunidade afro-brasileira em Salvador, na Bahia. Suas teses têm pontos de conexão com a campanha "Reaja ou será morto, reaja ou será morta", concebida por organizações sociais baianas, que denuncia aquilo que consideram ser o "genocídio da juventude negra brasileira pela violência do aparato repressivo do Estado" e prega "a defesa por todos os meios necessários".
Hampton Jr., que também conheceu os morros do Rio de Janeiro, anunciou uma conexão entre o Brasil e os Estados Unidos. "O manifesto antiterrorista não deve observar nenhuma fronteira colonial. Precisamos combater todas as formas de terrorismo que nos são impostas: o crack, a falta de políticas públicas, a aids e o ataque policial. O povo negro é a vítima preferencial", diz. Em Salvador, ele concluiu com uma analogia: "Para nós, do POCC, cada dia é como se fosse 11 de setembro. O que os brancos sofreram com o ataque terrorista, nós, negros, sofremos todo dia". Em São Paulo, Hampton Jr. e Mano Brown cerraram os punhos. E foram aclamados.
O principal articulador da vinda de Hampton Jr. foi Sharif, que mantém contatos com muçulmanos dos guetos da França, do Canadá e dos Estados Unidos. Rapper, ele trabalha com a educação de crianças e faz parte do movimento de literatura periférica. Aos 25 anos, tem um texto contundente, com forte denúncia da desigualdade racial. Descendente de africanos e italianos, tem olhos verdes e pele clara, mas não tem dúvidas de que é negro. "Dizem que não existe raça e somos todos brasileiros, mas qual é a cor que predomina nas cadeias, na Febem e nas favelas? Negros", afirma. "Não queremos vingança, só nosso lugar numa sociedade que ajudamos a construir. O islã não tem cor, é para todos. Mas somos negros numa sociedade racista. Então temos problemas à parte para resolver e nos posicionamos."
Os ativistas do NDIB acreditam que o islamismo pode ser uma alternativa à conversão evangélica, maciça nas prisões brasileiras. Para seu projeto político-religioso, entrar nas cadeias é estratégico, e o POCC, de Hampton Jr., é um parceiro importante. "Os presos têm virado crentes por falta de opção, porque a última escolha do presidiário é virar evangélico", afirma Leandro. "O islã é construção de conhecimento. Queremos trabalhar levando essa consciência, construindo a história de cada um e mostrando que, independentemente do crime que cometeram, eles são presos políticos", diz Sharif.
Em 2009, o núcleo islâmico quer iniciar a construção de Nova Medina, uma comunidade muçulmana capaz de acolher os convertidos de vários pontos da periferia paulista. "Hoje estamos espalhados, e isso dificulta a organização", diz Malik. "Sonhamos com um bairro muçulmano onde não existam bares com bebidas alcoólicas nas esquinas, os açougues não vendam carne de porco, nossas crianças possam estudar em escolas islâmicas e nossas mulheres não sejam chamadas de mulher-bomba." Para isso, pensam em adquirir um pedaço de terra e fazer um loteamento. Alguns já se mudaram para a periferia de Francisco Morato, um dos municípios mais pobres da Grande São Paulo. Medina, até agora o nome mais provável, está na origem do islamismo: é a cidade da Arábia Saudita para onde o profeta Maomé migrou para escapar das perseguições que sofria em Meca. A migração marca o início do calendário islâmico.
Eles planejam converter os presos e construir uma comunidade muçulmana na periferia paulista
Diante de expressões de incredulidade, eles dão um sorriso malicioso: "Se, há dez anos, eu dissesse a você que um negro seria o presidente dos Estados Unidos, você acreditaria?". Ou, como diz Valter Gomes: "Eu vi Martin Luther King morrer. E posso dizer que é uma revolução muito rápida. Um torneiro mecânico é presidente do Brasil, um índio é presidente da Bolívia e um negão com nome muçulmano é presidente do país mais poderoso do mundo. Ou é o fim do mundo ou é o começo de alguma coisa...".
No islã dos manos, o rap é o instrumento e a linguagem de divulgação da religião. "Muita gente ainda vai vir para o islã pelo rap. Nós ganhamos consciência pelo hip-hop, então não podemos negar nossa história. As pessoas na periferia veem aquela negrada fazendo rima e poesia, percebem sua atitude diferenciada, sua postura na vida, e querem se aproximar. Isso é o começo da reversão", diz Honerê. "É um passo depois do outro."
Com uma takiah verde-amarela na cabeça -- símbolo de sua condição de muçulmano brasileiro que não aceita mudar de nome --, Valter Gomes entrega tudo nas mãos de Alá. Tem os olhos úmidos quando afirma: "Alá diz no Alcorão que para cada povo há um profeta que fala a sua língua. Então, quem sabe não aparece um negrinho cheio de ginga e de rima na periferia?".
A mesquita dos negros
No centro de São Paulo, uma África islâmica
A Mesquita Bilal Al Habashi é um daqueles lugares que fazem de São Paulo uma cidade fascinante, apesar do trânsito e da poluição. No 9º andar do Edifício Esther, exemplar modernista do centro, estudado nas escolas de arquitetura, a mesquita acolhe imigrantes da África e brasileiros de origem africana para as cinco orações do dia. Instalada no apartamento que foi do pintor Di Cavalcanti, ela evoca uma intrigante algaravia: inglês, francês, português e dialetos tribais. As vozes só silenciam para ouvir o xeque recitar o Alcorão -- em árabe. Enquanto os muçulmanos rezam, o edifício repete uma rotina caleidoscópica. Na cobertura, vive o padeiro com sotaque francês Olivier Anquier. No subsolo, um cabaré exercita outras línguas. No histórico Edifício Esther, a Bilal al Habashi tem essa sina. Cultiva o espírito, espremida entre o pão e a carne.
Inaugurada em 2005, a mesquita tem um nome simbólico. Bilal foi um escravo abissínio torturado pelo dono para renunciar à religião. Resistiu e tornou-se o primeiro muezim do islã, encarregado de chamar os fiéis para as orações. Bilal era também o nome de um dos líderes da revolta dos malês. Assim, é um símbolo de resistência tanto para africanos no Brasil como para brasileiros com raízes na África.
O presidente da mesquita é também uma instituição. Muhammad Ali, como o famoso boxeador, foi um dos primeiros muçulmanos sem ascendência árabe em São Paulo. Aos 17 anos, chamava-se Jair Maceió quando ouviu pela primeira vez o nome do islã junto ao Viaduto do Chá, ponto de encontro dos negros paulistanos. Jair vivia a orfandade com os pais vivos. Sem recursos para criá-lo, eles entregaram-no ao Estado. O sobrenome, Maceió, como é comum entre descendentes de escravos, indicava a terra onde o avô fora cativo. Desenraizado, a luta pelos direitos civis dos negros americanos, nos anos 60, retumbou dentro dele. Quando o boxeador Muhammad Ali se recusou a lutar no Vietnã, dizendo que aquela não era uma guerra dele, Jair acreditou ter agarrado a ponta de uma raiz comum. Parou de dançar, seu "único vício", e tornou-se Muhammad Ali Numairi. Com esse nome, fundou a Mesquita Muçulmana Afro-Brasileira, em 1974, ao lado de Joel Azor da Silva e Abdullah Menelik Omar. O objetivo "era arrumar a sociedade negra e impedir a dissolução da família afro-brasileira pela bebida e pela droga".
Aos 58 anos, Seu Malma, como é conhecido, diz que o islã é para todos. Sua mesquita virou bússola para os perdidos africanos, a maioria clandestinos no Brasil. Eles dividem o espaço com "o pessoal do rap", que tem dado dor de cabeça a Seu Malma. "Música é proibido no islã. E gueto só serve à classe dominante, que quer mantê-los lá", diz. "Mas eles acham que o rap é importante para divulgar o islã na periferia e que eu sou da velha-guarda." Com a "jovem guarda do islã", Seu Malma compartilha a utopia: "Quero fazer do Brasil um país muçulmano".
Muhammad foi ao cinema e se converteu
Hoje, ele prepara "a base de um levante cultural", com migrantes nordestinos e gaúchos sem-terra, em Passo Fundo
Nivaldo Florentino de Lucena recebeu a dica de um amigo: "Tem um filme com a história de um negão que é da hora!". O "negão" era Malcolm X. O filme era a biografia do ativista americano, dirigida por Spike Lee. Numa sessão lotada de rappers, Nivaldo, da Zona Leste de São Paulo, concluiu que o negão era da hora mesmo. Filho de uma mãe que, no censo do IBGE, se declarava "branca" e de um pai que se anunciava "pardo", ele pertencia à geração que tinha certeza de que eram todos "negros". Saiu do cinema decidido a encontrar uma mesquita. Era 1992. Muhammad trocou a bebida, as drogas e os pequenos crimes pelo Alcorão. Anos mais tarde, se formou em teologia islâmica na Líbia. Em 2002, desembarcou na gaúcha Passo Fundo, cidade de colonização europeia, onde loiras naturais são tão corriqueiras como o chimarrão. Tinha duas metas sob a takiah muçulmana: assumir um posto numa multinacional de frangos halal (abatidos segundo a prescrição islâmica) e divulgar o islã.
Quando Muhammad Lucena chegou, havia três famílias muçulmanas de origem árabe. Hoje, ele conta mais de 40, a maioria composta de trabalhadores da empresa. Muhammad se tornou o imã, líder religioso, de uma comunidade com um perfil inédito: migrantes nordestinos que chegaram ao sul como mascates e gaúchos que trocaram a zona rural pela periferia da cidade. No caso de Passo Fundo, o islã disputa, no campo religioso, com a Igreja Católica e com as neopentecostais evangélicas. No campo político, com o MST. "Sempre fui peão e, como negro, fui vítima de muito preconceito aqui no Rio Grande", diz Valdivino Bueno da Silva. "Tinha intenção de virar sem-terra, como o meu irmão, mas acabei ficando por aqui e me convertendo." Em 2005, aos 24 anos, ele conseguiu vencer o alcoolismo e virou Abdallah.
Tornou-se "irmão" no islã de João Paulo Silva, que deixou o sertão do Ceará para vender artigos de cama e mesa pelas ruas de Passo Fundo. "Gaúcho chama todos os nordestinos de baiano", diz. "Era uma vida sofrida." Aos 20 anos, mudou de sina, adotou o nome de Jaber e virou um obstinado divulgador do islã. Converteu a mulher, irmã de um pastor da cidade. E também os sogros, que abandonaram a crença evangélica e vieram do interior do Paraná para ficar perto da comunidade islâmica de Passo Fundo, em franca expansão. Ela já tem um cemitério e o terreno da futura mesquita, doado pelo governo do Kuwait.
Muhammad, de 33 anos, casado com uma branca e pai de cinco filhos, defende um islã para todas as cores e raças. Na Líbia, conheceu Louis Farrakhan, mas não simpatiza com as "ideias radicais" do líder da Nação do Islã. Ele crê, porém, que o Brasil vive "uma nova revolução islâmica". "Há focos do islã borbulhando em toda parte. Existem hoje brasileiros estudando na África, na Ásia e no Brasil para fazer a inserção de muçulmanos em órgãos-chave", diz. "Já temos a base pronta, com os mais pobres. Só nos falta um líder para ter um levante. Não armado, mas cultural."
Por trás do véu, um novo perfil de mulher islâmica
Chamadas de "mulher-bomba" nos ônibus metropolitanos, elas começam a alterar o cenário urbano
Ela é "Dona" Ilma. E tão dona que o dela merece maiúscula e já se integrou ao nome. Não por acaso, é a que lidera a fila na foto. Como ela mesma diz, abriu seu espaço com "punhos e conhecimento". Ilma Maria Vieira Kanauna é uma das pioneiras no movimento islâmico afro-brasileiro, em São Paulo. Aos 53 anos, convertida há mais de duas décadas, é tratada com um temor respeitoso, porque Dona Ilma é mulher braba. Nada mais distante dela que o estereótipo da mulher árabe submissa, sempre dentro de casa, que resiste no imaginário ocidental como a realidade única da mulher no islã. Sua cartilha é a das malês, mulheres ativas no levante escravo de 1835. "A América foi edificada sobre os ombros dos homens negros e o ventre das mulheres negras", diz com solenidade. "E o islã é o espelho em que eu me vi refletida."
Dona Ilma é filha de uma "tradicional família negra", de origem matriarcal. Até os 6 anos, se criou numa área de quilombo, em Minas Gerais. Lembra a avó e a mãe sempre vestidas de preto, rezando com a janela aberta e mandando nos homens e no curso da vida. Quando a mãe morreu de parto, o pai se mudou, e ela ainda hoje diverte-se com a memória dos primeiros brancos que surgiram no seu campo de visão. "Eu e meu irmão achávamos que eram lobisomens", diz. "Nos chamavam pra brincar, e a gente se escondia achando que iam nos comer."
Algumas aventuras mais tarde, porque a vida de Dona Ilma dá mesmo um romance, acabou filha adotiva de uma família de descendentes de alemães, com quem ainda hoje vive e se entende bem. Primeiro tornou-se comunista, depois muçulmana. É educadora por vocação e, por convicção, só trabalha em escolas de periferia. Compara o 11 de setembro a "uma mulher que passa a vida apanhando e um dia dá 11 tiros no marido". E acredita que a violência no Brasil, da qual já foi vítima, é a forma de as minorias sem identidade e futuro pedirem socorro. "Nossas crianças estão perdidas, escrevendo Joaquim com n e não se reconhecendo em espelho algum", diz.
A testa lisa de Dona Ilma só é contraída por uma ruga quando fala sobre a nova geração de muçulmanos. "O islã sempre trouxe cidadania para as minorias. E as periferias são as senzalas de hoje. Mas as novas gerações têm muito punho ainda, tenho medo que acabem sendo segregacionistas", afirma. "Não precisamos mais de um discurso de raça, precisamos de cidadania. Acredito, porém, que é um ritual de passagem. Quando me converti, também era muito radical. Vamos deixar eles gritarem um pouco."
Na foto, ela é seguida por Elisângela Résio, de 31 anos, e Luana de Assis, de 28. Há quatro, Luana trocou a vida de "balada de segunda a segunda" e um figurino hip-hop para se tornar muçulmana. Elisângela se converteu em maio, no dia em que casou com o rapper Leandro Arruda, que conheceu num show dos Racionais MCs. Até pouco tempo, um início de romance inusitado para uma muçulmana. ´"O que você acha de Jesus?", ele perguntou. Tudo começou a dar certo quando ela disse que Jesus era um profeta -- e não o filho de Deus.
Como qualquer trabalhadora, elas pegam ônibus e trens lotados de segunda a sexta- -feira, da Grande São Paulo para a capital, e vice-versa. Nas ruas, já se habituaram a ser chamadas de "mulher-bomba" ou "prima do Bin Laden". "O povo não está acostumado a ver muçulmanas sacolejando em ônibus e trens como qualquer mulher que precisa trabalhar", diz Luana. "Confundem religião com cultura, acham que todo muçulmano é árabe e toda muçulmana só fica em casa."
Fiel às rimas de sua geração, Elisângela dá um conteúdo político próprio à indumentária islâmica. "A mídia impõe que brasileira tem de andar de minissaia ou shortinho, meio pelada. É a imposição de um estereótipo que as mulheres seguem desde criança sem nem se dar conta", diz. "Por que minha roupa de muçulmana chama a atenção dentro do trem e a menina seminua não?" A própria Elisângela responde: "Porque estou fora dos padrões que a mídia impõe, tenho identidade própria, fiz minha escolha".
Elisângela afirma que conseguiu até parar de fumar. Só demorou a aceitar que o marido possa ter outras mulheres -- "direito" pouco exercido no Brasil, que pune a bigamia no Código Penal. Depois de embates internos, ela capitulou. "É um direito dele. Quem sou eu para discordar do Alcorão? ", diz. "Prefiro que tenha uma segunda mulher do que me traia. O homem tem necessidades."
Essa mesma mulher traz na cabeceira O capital, de Karl Marx, e diz admirar Che Guevara com fervor revolucionário.
_______________________________
Extraído do site da Revista Época.