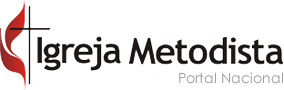Publicado por José Geraldo Magalhães em Geral - 13/09/2013
Entrevista com a correspondente de guerra Karen Maron
|
|
|
|
"Eu já enfrentei o inferno, sofri muito, mas creio em Deus e por isso eu sei que se eu for embora será porque Ele me chamou. Então aí, eu vou." |
Em 10 anos, a argentina Karen Maron, de 35 anos, já cobriu muitos conflitos armados. Colômbia, Iraque, Peru e Chipre são alguns dos países nos quais entrevistou líderes políticos e pessoais que sofrem constantemente com o cenário de horror. Ela se caracteriza por sua coragem, gênio, compromisso e ética profissional.
Um de seus momentos inesquecíveis está na ponta da língua: “Com as mães dos prisioneiros no cárcere iraquiano de Abu Ghraib”. Já trabalhou para vários veículos de comunicação em todo o mundo, entre elas a BBC e CNN. Na entrevista, ela traça sua visão dos conflitos, suas dificuldades e os sofrimentos das pessoas em meio ao inferno. Karen também conta sobre um campo que abrigava refugiados cristãos.
Como é o dia a dia de uma correspondente de guerra?
Cada dia é diferente em uma guerra. Na do Iraque, por exemplo, trabalhei para veículos diferentes, muitas vezes das 3h ou 7h da manhã até às 3h da tarde. Não há sábados, nem domingos e descansos. O despertador ali às vezes é um carro bomba.
No Iraque você teve que cobrir o corpo. Como foi isso? Era fácil uma mulher como você viver assim por lá?

"Todas as autoridades religiosas não falavam com mulheres, o que significaria que eu não teria minhas entrevistas. No entanto, consegui algumas porque estava totalmente coberta."
Depende muito de onde se está. No Iraque, por exemplo, foi um pouco difícil, tive que me adaptar à cultura deles. Mas mesmo assim, às vezes é um sacrifício trabalhar dessa forma.Imagine que com 60 graus de temperatura fui obrigada a cobrir minha cabeça com o hijab e o corpo com o xador. Havia também outro detalhe: todas as autoridades religiosas não falavam com mulheres, o que significaria que eu não teria minhas entrevistas. No entanto, consegui algumas porque estava totalmente coberta.
No trabalho de campo no Iraque, você percebeu alguma diferença no tratamento?
Os homens e as mulheres no campo de guerra passam exatamente a mesma coisa. As bombas são jogadas à mesma distância, os morteiros atingem e matam do mesmo jeito, sofremos o mesmo calor e o mesmo frio. Realmente neste aspecto não há nenhuma diferença. Só fiquei chocada com uma coisa que ouvi no Iraque: ‘que a mulher só não vale mais do que o burro porque o burro ainda serve para fazer a carga’. Não pude falar nada.
Na sua visão como está a realidade da mulher no Iraque? E a do país?
No Iraque até que algumas mulheres não eram tão diferentes dos homens, algumas tinham êxito profissional e participavam ativamente na sociedade. Depois da ocupação americana essa posição meio esquecida, pois o grupo mais afetado agora é o das mulheres. Há uma resistência dos grupos fundamentalistas, que se prendem a raízes islâmicas bem severas e fazem com que a mulher não saia de casa, não estude e não trabalhe.
Hoje o que se vê muito por lá também é o aumento de seqüestros de iraquianas e de estupros, o que para a mulher do mundo árabe significa a morte. Ela passa a vergonha da família e isso ela não consegue suportar. Quanto ao Iraque mesmo, creio que está passando por um momento novo, uma parte da sociedade tem vontade de participar desse sistema imposto pelas condições de conflito. Claro que a gente tem que levar em conta o nível cultural e político. Eles desconhecem totalmente do que se trata um modelo de democracia, aliás, há uma história toda de ocupação americana, que é totalmente ilegítima. Em minha opinião, os EUA violaram todas as leis do direito internacional, bem como as pessoas.
Em 2006 você esteve em um campo de refugiados cristãos, eles estavam no fogo cruzado com o Líbano. Como foi isso?
Os cristãos na época estavam ameaçados não só pelo Hezbollah, mas também pelos guerrilheiros de Israel. Por conta disso, eles começaram a se refugiar na fronteira de Israel, era uma aldeia maronita, que tem 8 mil habitantes. Hoje lá é conhecido como o reduto de Aaita ech Chaab, o reduto do Partido de Deus. O povo de Deus foi muito bem recebido pelas famílias daquele local.
Do que você não consegue se esquecer?
Das carinhas das crianças, o olhar delas querendo saber o que realmente está acontecendo. Elas não têm culpa do que ocorre em uma guerra. Uma vez em Faluya, no Iraque, vi um menino de apenas quatro anos perder nove membros da família, ele também perdeu seu braço e sua perna esquerda. Foi atingido por um ataque aéreo de um F16 e só não morreu porque foi socorrido por um jornalista inglês.
E a experiência com as mães de Abu Ghraib?
Disso eu não me esqueço. Eu sabia o que Abu Ghraib significava para milhões de iraquianos, era um símbolo bastante sinistro porque durante o regime de Saddam Hussein passaram por ali mais de 150 mil pessoas que foram assassinadas, torturadas ou sumiram. Falei muito com as mães dos prisioneiros que desapareceram, vi o sofrimento.
Hoje, percebo que isso foi uma analogia inconsciente com o passado do meu país, como a história das mães da Plaza de Mayo (lugar histórico de Buenos Aires) onde as mães de desaparecidos políticos protestam até hoje, onde muitos sumiram ou morreram na ditadura. Antes de sair na mídia as fotos dos torturados, ninguém sabia, mas muitas delas foram testemunhas da violência contra seus filhos.Eles eram simplesmente arrancados de casa por soldados estadunienses, não importando de que forma. A dor de uma mãe nessa hora é quase indescritível. Mas a maioria delas nunca baixou guarda.
A palavra medo existe em seu vocabulário?
Honestamente, creio que não sinto medo. Sempre me fazem essa pergunta, mas a sensação que tenho é que quando há uma situação difícil ou perigosa fico um pouco apreensiva. Mas não tenho medo da morte. Eu já enfrentei o inferno, sofri muito, mas creio em Deus e por isso eu sei que se eu for embora será porque Ele me chamou. Então aí, eu vou.
Por Diana Gilli