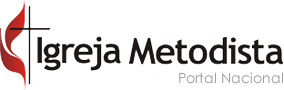Publicado por José Geraldo Magalhães em Geral - 13/09/2013
Direitos Humanos
O debate em torno do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNPH3) mostra o nascedouro da distinção entre o Estado religioso e o Estado laico, e sua ambição de tornar lei e instrumento de poder os sonhos mais belos e amáveis, que acalentamos no coração. Com o avanço da modernidade, e os novos modelos de sociedade que ela traz como possibilidade, esse ideal fica cada vez mais distante.
Antonio Carlos Ribeiro/ALC NOTÍCIAS
Brasília, lunes, 1 de febrero de 2010
Da mesma forma, o medo da novidade aos novos modelos de sociedade, surgidos do novo tempo, e a estratégia de resistência para perpetuar o antigo, mostram-se duplamente sofridos, já que não é possível negar os conflitos surgidos em ambientes religiosos, quanto o caos e o sofrimentos que os Estados - concebidos apenas politicamente - impuseram a seus povos quando se deixaram guiar por sentimentos religiosos.
A distinção é simples. Um reino é o do coração, dos sentimentos e da afetividade. O outro é o da vida em sociedade, com regras, leis, configurações geo-espaciais, limites a conquistar, manter e defender. Sem falar da exclusão de um grupo de cidadãos cujo número quadruplicou na sociedade brasileira na última década: os sem religião!
A postura de Nadia Urbinatti, de que "defender o Estado laico é um dever que os cidadãos religiosos deveriam ter no coração", é legítima e defensável. A laicidade é fundamental até mesmo para a defesa da religião, já que quando surgem dilemas morais, os religiosos profissionais são os primeiros a se arvorarem o direito de falar em nome da fé. Nesse ponto os religiosos laicos e os cidadãos têm interesses bem diferentes dos que querem governar a polis, os políticos, e dos que lideram religiões, os religiosos. A unidade é uma noção surgida da guerra, ensinou Panikkar, que encontrou boa guarida no discurso religioso. Os discursos político e religioso precisam amalgamar sentimentos para unificar (tornar um).
Na verdade a ideia mais rica a respeito do Estado e da Religião é a oposição ao domínio através dos sentimentos, a laicidade. O povo (laós, do qual vem laikós como pejorativo) é naturalmente diverso, plural e múltiplo. A comunidade é o novo espaço de coesão e intervenção. Nele, "o crente religioso e o cidadão têm o mesmo interesse: o de ter políticos que não tornem a vida um objeto de compromisso político" ou religioso. Esses atores têm aprendido, recentemente, a criar relações de poder independentes do Estado e da Religião.
Nas sociedades modernas, em função do cansaço do modelo ocidental, percebemos a necessidade de libertar o Estado e a Religião. Para que cada um possa ser o que é. Historicamente, essa distância só "foi possível quando o estado de direito venceu a própria batalha contra o estado confessional". Taylor demonstrou como o respeito, afirmado pela liberdade individual, foi fundamental à conquista da liberdade de consciência e da liberdade religiosa, que é tanto liberdade de acreditar, quanto liberdade de escolher em que acreditar. Isso significa que a idade secular trouxe avanços para todos.
As dificuldades apresentadas pelos que defendem a pré-modernidade, em contraposição à modernidade, têm como marca a necessidade do poder para administrar os sonhos alheios. Eles não gostam da laicidade e menos ainda do Estado Democrático de Direito, trabalhando diuturnamente para solapá-lo, deslegitimá-lo, sabotá-lo e fingir que o aceitam. Desde que ele não fira interesses dos que se sentem legítimos ao administrar sonhos. Se esta exigência não for atendida, os sonhos serão proibidos. Ou, aprisionados os sonhadores.
Por esta mesma razão, os que defendem o estado religioso, defendem seu direito de administrar os sonhos de todos, e interpretá-los, pelo acesso ao amálgama dos saberes da ciência, da revelação e da fé - a escolástica - que possibilita todos os poderes. E poderes totais. No entanto, nos deparamos na atualidade com dois modelos: uma religião na qual os fiéis pertencem a Deus, e a sua fé se identifica com ritos, práticas eclesiásticas e hierarquias. De outro, uma religião crítica da velha fé, defensora da autonomia moral individual, que a considera "fenômeno de fé" pelo qual "Deus pertence a nós", como criaturas que desejam a eternidade e a transcendência, e escolhem crer.
O humanismo, nesse contexto, serviu à religião, e o secularismo não nega a condição da religião mas sim a condição de que a religião volte a viver no coração humano, em vez de viver nos ritos e nas hierarquias. Quando a religião constituída dá um passo atrás, a religião como crença dá um passo adiante: essa foi, desde o século XVI, o ensinamento da liberdade religiosa e da tolerância. Assim, as comunidades políticas podem ser lugares de tranquilidade e de respeito recíproco.
A atitude de defender o Estado de direito, laico, é dever dos cidadãos religiosos, mas não menos que os outros. Estado laico não é secularista, mas um instrumento para legislar e julgar a separação entre o justo e o bom. A arte da separação não é negar as atribuições da vida política e religiosa, mas distinguir quando pensamos como cidadãos e quando o fazemos como indivíduos, membros da sociedade. Nas duas posições lidamos com as razões da ética e da política, para que triunfem.
Separar a vida religiosa da vida social cria espaço para a dimensão religiosa de vida, de forma coerente com a fé de cada um, em comunhão com os demais e sem impor, pela letra da lei, a sua visão do bem. Esse crente cidadão pode respeitar quem não tem crenças religiosas particulares e quem as tem, e gosta de expressá-las, e a si mesmo.
Se é verdade que só quem é livre pode crer, também é verdade que crer é um ato de liberdade pessoal fundamental. No entanto, nenhum crente gostaria de ver o próprio credo expresso como um artigo do código penal. Nossa crença não depende da lei para ser respeitada, mas sim da responsabilidade como a vivemos e das escolhas pessoais que fazemos.
A ausência de uma lei não garante que a mulher decida responsavelmente pela própria maternidade, do mesmo modo que a existência da lei não a impede. O Estado religioso pode se transformar naquele frente ao qual podemos calar nosso sentido de dever? Será que um administrador ou parlamentar pode encontrar um compromisso que nos isente do sentido de participar da decisão? Nessas circunstâncias, deve a pessoa de fé delegar a outros as decisões que só ele pode tomar?
O outro lado é que o Estado de direito não pode impor a todos aquilo que um grupo pensa ser o bom, o justo e o certo. Sob pena de não ser ética essa lei. Indaga-se se a lei deve lidar sobre o campo moral, no qual só a consciência do indivíduo tem o dever da escolha. Se existir, essa lei não é ética, mesmo sob o pretexto de proteger a dignidade do crente. Mas deve apresentar parâmetros para os crentes e os demais cidadãos.
Ao propor a democracia como um governo de iguais, na verdade se quer criar espaços de debate em que o critério seja mais do que apenas contar votos. Isso é especialmente claro quando não se decide por opções verdadeiras, mas pela menos pior delas. O mais humano não é optar, qualquer que seja a qualidade das propostas, mas exigir propostas que correspondam da melhor forma ao nível de humanidade já alcançado e do qual não se pode abrir mão.
Os interesses do crente religioso e do cidadão aqui se tornam o mesmo: participar da cidadania e não delegá-la a políticos que, pelo modus operandi próprio de seu meio, tendem a tornar a vida um objeto de compromisso político. O que está em jogo é a dignidade, que tem significado para as pessoas de fé, por isso não se deve exigir que o Estado seja mais que estado de direito ou defensor de certa ordem moral ou religiosa.
* Doutor em Teologia, com especialização em Diálogo Inter-religioso na América Latina.